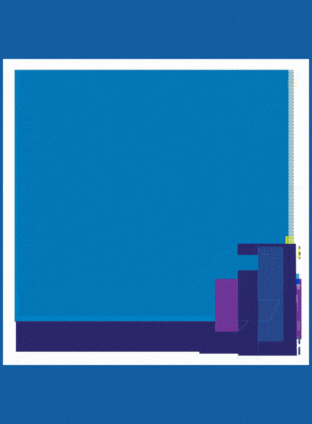A vida de quem mora fora da base é, em muitos aspectos, única. E isso não é um elogio. A decisão de morar em outra cidade que não na qual você trabalha é, no mínimo, dolorosa, cansativa e cara. Porém, por diversos motivos, acaba sendo a opção de muitos tripulantes pelo mundo. Hoje mesmo, sairei de casa doze horas antes do necessário, pois amanhã cedo tenho treinamento no Rio de Janeiro – a 700 quilômetros daqui – e não convém pegar o último voo. E o meu caso ainda é bem tranquilo. No seu livro, o famoso capitão “Sully” – do “milagre no Hudson” – mora na Califórnia com base em Charlotte – distância igual à de Lisboa ao Canadá. E podem estar certos, esse ainda não é o mais longo. Mas, se há um aspecto positivo nesta puxada vida de commuting, são as tripulações e aviões que nos levam de carona pelos céus afora.
Na maior parte das vezes, você estará cansado ou preocupado demais para interagir, e fora uma espiadela aqui e outra ali na paisagem, uma ou outra pergunta de um passageiro sentado ao lado, a viagem será apenas uma maneira de chegar na sua base – geralmente muitas horas antes da apresentação para seu próprio voo – ou de voltar para sua casa após mais uma missão cumprida. Porém, aqui e ali, você encontrará amigos de longa data, voará aviões diferentes e até conseguirá um jumpseat numa lenda da aviação. E é essa que dividirei hoje com os leitores da NewsAvia.
Houve um dia em que estava especialmente de mal com o Rio de Janeiro. Já tive bons e maus momentos por lá, mas nessa noite lembro que eu estava especialmente arisco. Não haviam mais voos diretos para Florianópolis naquela noite. Na verdade, nem com conexões. Mas eu precisava sair do Rio desesperadamente. O único voo que eu tinha disponível era para Guarulhos, São Paulo. Ao invés de ir para uma pensão onde costumava pernoitar na Ilha do Governador, bairro carioca onde fica o Aeroporto Internacional Tom Jobim, peguei o último voo para Guarulhos, e só de entrar no avião que decolaria em minutos para minha antiga base – fui comissário na Base São Paulo por nove anos – já estava me sentindo melhor. Cheguei em GRU por volta das 23 horas. Não haviam mais voos para Florianópolis e eu estava decidido a esperar por lá o primeiro voo do dia, às 7 da manhã. Para quem estava de uniforme desde a hora do almoço, um sacrifício e tanto, mas era a opção que me restara. Até que me lembrei: um voo cargueiro saía por volta das quatro da manhã de Guarulhos para Florianópolis! A espera seria longa, mas já seriam três horas a menos que seguir no voo de passageiros das sete. Enrolei mais algumas horas no despacho operacional, e por volta das três, segui numa van até o setor de carga do principal aeroporto da América Latina. Fui ao despacho da companhia cargueira, e quem me atendeu foi a despachante operacional, muito simpática. Em especial para aquele horário da madrugada, ela era incrivelmente cordial. Explicou-me que os pilotos estavam dormindo numa sala no andar abaixo, e que havia uma vaga no jumpseat naquele voo, bastava que eu me apresentasse formalmente para o comandante, mas que ela já me colocaria no P.O.B – people on board. Meia hora mais tarde ele acordou, me apresentei para a tripulação e fomos numa van para o pátio remoto de Guarulhos. A visão era desconcertante: apesar de estar atravessando sua pior recessão desde a proclamação da República, a economia brasileira mostrava ali sua força: uma dezena de aviões cargueiros parados lado a lado, sendo carregados para que antes do amanhecer, vários destinos país afora estivessem abastecidos dos mais diversos materiais, de correio a comida. A mim, caberia a carona num imponente Boeing 727-200 cargueiro. Talvez eu tenha voado num desses ainda bebê, mas na idade adulta, e na cabine de comando, era a primeira vez.
Senti-me como se estivesse de volta aos anos 1960 e 1970. À exceção do desenho clássico da fuselagem e do nariz, tudo era absolutamente diferente do Boeing 737 Next Generation que piloto. O engenheiro de voo, assim como o copiloto, bastante jovem, mexia com desenvoltura numa quantidade inimaginável de botões e ponteiros que eu nunca havia visto. Ao copiloto, sobrava pouca coisa para fazer além da comunicação com os orgãos de controle – hoje, apesar da automação dos sistemas, sem o engenheiro de voo, o copiloto trabalha bem mais – enquanto ao comandante, cabia pilotar propriamente. Os checklists eram enormes, e acionar cada um dos três motores levava uma vida. Pelos motores serem traseiros, a cabine era relativamente silenciosa. Ouvia-se no entanto o vento: voávamos baixo e veloz rumo ao Sul. Os ajustes finos do motor eram feitos pelo engenheiro de voo – e não por um computador, como é hoje em dia – assim como os cálculos de performance – hoje feitos pelo copiloto. Ao chegarmos em Floripa, operava a pista 32, que além de um RNAV, tem um arco DME. Após alguns vetores, o 727 foi colocado na radial que trazia à pista, e perto dos mínimos – e estranhamente fora do eixo – avistamos. Foi um voo memorável, que guardarei com carinho. Meia hora depois, eu dormia na minha cama, na Ilha de Santa Catarina, a tal nona ilha dos Açores.
Hoje em dia, divido um apartamento com colegas no Rio, e dormir por lá ficou mais suportável, tanto pelo conforto quanto pela companhia – somos em nove, dentre pilotos e comissários, todos amigos. Então nunca mais me aventurei de cargueiro, e esperar o voo do dia seguinte passou a fazer mais sentido. Mas que adoraria voar de novo no clássico Boeing 727, não há dúvidas.
Foto: O belo Boeing 727-200F que me levou para casa pelas lentes de Alessandro Esch. Um dos mais memoráveis aviões de todos os tempos, ainda em uso por diversas companhias cargueiras mundo afora.